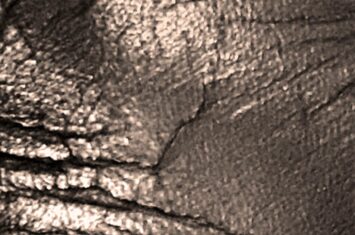Cheia de intensões
Diante de um cenário geral da dança, no qual inúmeros artistas, coreógrafos, pesquisadores, estudantes e professores persistem, infelizmente, em não insistir, o trabalho de Cristian Duarte em companhia/ZONA sinaliza o oposto. No contexto neoliberal da criação, amplamente marcado pela fugacidade das relações e pelo enfraquecimento do depuramento estético das questões que a própria atualidade impõe, não há soluções milagrosas e expressas para se desenvolver a maturidade de uma obra – qualidade esta presente em E nunca as minhas mãos estão vazias, espetáculo que encerra o ciclo de pesquisa do projeto Kintsugi.
A sofisticação de uma artesania de algo já estabelecido demanda tempo, porque nesse processo há também que se olhar para o que foi sistematizado, de modo a assegurar a sua gramática e a sua permanência. Quando a criação coloca em jogo as possibilidades dos próprios rearranjos gramaticais – que é o caso do trabalho em questão –, o tempo necessário deixa de ser apenas o cronológico. Adentrar outros modos de estar junto, e de comunicar, requer que novos gestos sejam investigados, sendo que, muitas vezes, esses gestos precisam ser delicadamente realizados, para que, com isso, seja possível sustentar a potência, a força e a beleza do que é e precisa ser frágil.
E nunca as minhas mãos estão vazias pode ser metáfora para diversos assuntos que atravessam os nossos tempos, a exemplo das vulnerabilidades sociais e relacionais, ou das dificuldades de se abrir novos campos de atuação profissional para artistas da dança (ou mesmo de se manter os poucos que ainda restam). E, de fato, essas e muitas outras questões podem emanar dessa metáfora. No entanto, o que mais parece ecoar do trabalho não parte de nenhuma intenção que se dá a priori, que se apresentaria a partir de algo de fora da obra, mas sim das possibilidades de intensão (com “s”) colocadas em sua própria materialidade e presença, e que são esbanjadas pelos nove artistas que estão em cena: Aline Bonamin, Allyson Amaral, Andrea Rosa Sá, Danielli Mendes, Felipe Stocco, Gabriel Fernandez Tolgyesi, Leandro Berton, Maurício Alves e Paulo Carpino. Há, notadamente, uma corrente de forças que mantém ativado todo o ambiente da cena. Quem está fora dela é, inevitavelmente, atingido pelas descargas elétricas que a composição dispara.
Algo já investigado em outros trabalhos de Cristian Duarte em companhia, a atmosfera sonora não é apenas um mero fundo musical para a dança; muito menos algo que orienta e determina o movimento. O looping das captações de sons, compostas por grunhidos, gritos, palavras, frases completas, onomatopeias e pequenos trechos de canções, entram no jogo e compõem coreograficamente tanto quanto as movimentações de cada dançarina e dançarino. Tal atmosfera sonora cria um tempo presente que resgata o que acabou de passar, lança-o no futuro próximo, mas retoma tudo para o agora, que é onde o trabalho incita ficar. Outra característica que faz menção a trabalhos anteriores, e que encanta ainda mais a crueza da presença de E nunca as minhas mãos estão vazias, é o uso do rosto e de suas expressões, que, como passos de dança que também são, coreografam a dimensão do sutil.
São muitos os elementos que compõem uma polifonia caoticamente orquestrada: calças jeans rasgadas, faixas de cabelo, maiôs, meias coloridas, brilho e maquiagem, collants e camiseta do Flamengo. Todos eles estão lá, coabitando um mesmo espaço; todos, assim como cada dançarina e dançarino, que se apresentam nas suas singularidades, vão desenhando um cenário de multiplicidade de arranjos, de aglutinações e de significações. Não há a imposição de um elemento sobre o outro, tampouco de alguém sobre alguém. Os símbolos são todos apresentados, mas à medida que eles experimentam uma lógica de análise combinatória incessante, começa-se a atentar não mais para um ou outro em específico, mas para as próprias trações entre tudo o que está lá.
Traciona-se tudo com tudo e todos com todos, de modo que o que quer que seja, ou quem quer que seja aproximado ou repelido por essas ações, também se faz valer. Não se trata de tornar-se coadjuvante ou antagonista, para dar suporte para que uma suposta parte mais importante possa se colocar; trata-se de uma negociação contínua, e que não seria possível de acontecer via inércia, ou seja, através da não-reação de uma substância em contato com outra. De alguma maneira, E nunca as minhas mãos estão vazias ativa-se enquanto cena através da qualidade agonística da negociação contínua para se estar junto, na coabitação de um mesmo ambiente.
A estética agonística em questão explora alguns curtos-circuitos. Nela, não há nada que se coloque de cima para baixo ou de baixo para cima; nada e ninguém está ali para se colocar em nome de muitos. Não há, tampouco, jogos de argumentos, que ora buscam se instaurar pelo convencimento, ora pela manipulação de uma tendência. Fazer agonisticamente é investir em um tipo de democracia radical, que convoca à atenção o que, o com quem, o como e o onde da realização de uma ação. É sempre a ação e os agenciamentos necessários para que ela se mantenha viva que importam, e não aquilo o que ela aparentemente veio representar, ou as intenções que ela carrega. Novamente: são as intensões que constituem a potência e a política de uma presença.
E nunca as minhas mãos estão vazias radicaliza as formas e as possibilidades desse entendimento de presença. Vai na contramão, então, porque não simula os resultados desse fenômeno, criando uma espécie de “efeito de”. Ao proporcionar as sutilezas e as belezas de uma presença radical, esta que é ao mesmo tempo tão forte e tão frágil, o trabalho dispara no mundo “sensações para delirar a vida diante de uma realidade insuportável”, tornando essa mesma realidade, também, um pouco mais habitável, um pouco menos lamentável.